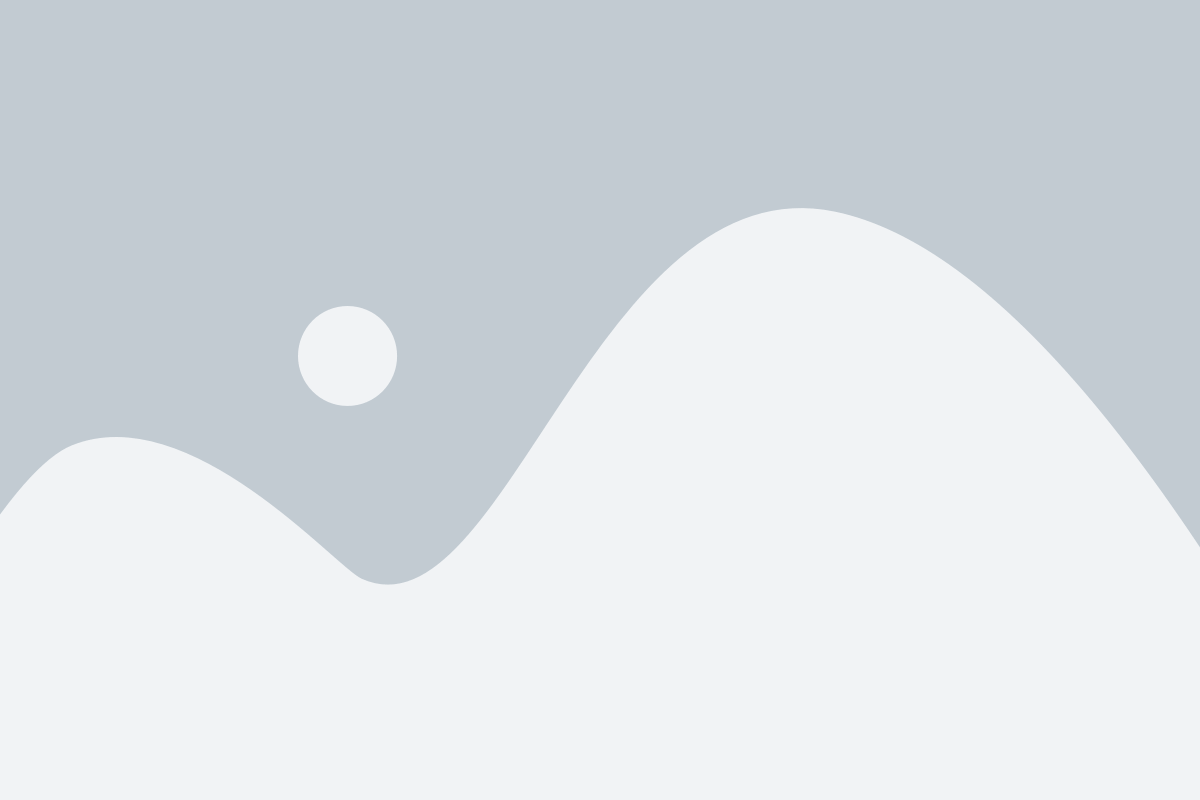Silvia Pérola Teixeira Costa [1]
João Gabriel Costa dos Santos[2]
INTRODUÇÃO
No presente trabalho, buscar-se-á realizar uma análise acerca da prestação da jurisdição constitucional, com enfoque na efetividade de direitos fundamentais do trabalhador em Tribunais constitucionais no Brasil e em Portugal.
Os direitos sociais do trabalhador (fundamentais) nem sempre têm efetividade em Cortes Constitucionais e, muitas vezes, a possibilidade de sua apreciação esbarra na mecânica da “jurisprudência defensiva” – a exemplo do que ocorre no Brasil – ou na inacessibilidade à jurisdição constitucional em países como Portugal.
Tais direitos, constitucionalmente catalogados, deixam de ser apreciados pelos Tribunais Constitucionais em face da negativa de entrega de jurisdição e dos chavões de infraconstitucionalidade da matéria, bem assim de versar a controvérsia sobre matéria pacificada no Tribunal. Nesse sentido, atesta-se que o Tribunal da Relação, o Supremo Tribunal de Justiça e a Corte Constitucional, em Portugal, e o Tribunal Superior do Trabalho – TST e o Supremo Tribunal Federal – STF, no Brasil, nem sempre efetivam a entrega de uma jurisdição constitucional no tocante aos direitos sociais, muito particularmente, os do trabalhador.
A morosidade e o equívoco na entrega da prestação jurisdicional, em matéria de índole constitucional causa grandes impactos, uma vez que, a despeito de terem sido alçados à condição de direitos fundamentais, os direitos sociais do trabalhador perdem sua efetividade nas esferas ditas constitucionais.
No Brasil, isto ocorre pelo avanço da prática de uma jurisprudência defensiva, em um cenário em que mais de cem milhões de processos estão em trâmite. Em Portugal, tal fato decorre da ausência de mecanismos de acesso direto do jurisdicionado à jurisdição constitucional.
Pretende-se, no presente artigo, abordar, especificamente, a instância máxima de Justiça Laboral brasileira; a qual, muito distanciada da realidade fática, acaba, muitas vezes, por retirar a efetividade dos direitos mencionados, reformando decisões julgadas procedentes em primeiro grau e mantidas em segundo grau, instâncias soberanas no exame fático-probatório, ou deixando de proceder ao devido enquadramento jurídico dos fatos para que se tornem efetivos os direitos fundamentais do trabalhador.
Por conseguinte, na avaliação dos autores, a distância da realidade fática mencionada leva a equívocos na edição do questionável número de Súmulas e de Orientações Jurisprudenciais (só existentes no TST),[3] as quais obstaculizam a possibilidade recursal das partes, particularmente, do trabalhador hipossuficiente.
Também é alvo de reflexão desta pesquisa a complexidade de que se revestiu o processo do trabalho brasileiro, na fase recursal, a despeito da previsão legal de que “os recursos serão interpostos por simples petição…”,[4] bem assim a reiterada negativa de entrega de jurisdição e aplicação da jurisprudência considerada pacificada, com comprometimento dos institutos do prequestionamento e da vedação de exame de matéria fática (Súmulas ns. 297 e 126 do TST).
Não se olvida a sobrecarga do Tribunal Superior do Trabalho brasileiro[5] e o esforço hercúleo dos seus magistrados para dar vazão à enxurrada de processos que assola aquela Corte. Mas é preciso, urgentemente, um olhar coerente com o estatuto de constitucionalidade e fundamentalidade de que se revestiram os direitos sociais do trabalhador, sob pena de total esvaziamento dos princípios constitucionais pertinentes elencados, prodigamente, na Carta Magna brasileira, tornando-se, assim, o processo um fim em si mesmo, e não um instrumento para a entrega de prestação jurisdicional.
Por outro lado, a Constituição Portuguesa assegura, em seu art. 20.º, 1, “o acesso ao Direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios econômicos”. Contudo, o sistema jurídico-constitucional português carece de um processo de “queixa constitucional” (Verfassungsbeschwerde, staatrechtliche Beschwerde, recurso de amparo) “que permita aos cidadãos lesados nos seus direitos fundamentais apelarem diretamente para um tribunal constitucional” (CANOTILHO, 2003, p. 507). Por isso, muito se tem dito que o Tribunal Constitucional português não é um tribunal de direitos fundamentais.
DESENVOLVIMENTO
1. O princípio da dignidade da pessoa humana como pano de fundo nos ordenamentos jurídicos do Brasil e de Portugal.
No Brasil e em Portugal, o princípio da dignidade da pessoa humana tem destaque constitucional, bem assim, e em correlação, a proteção aos direitos fundamentais.
No artigo 1º, incisos II e III, da Constituição de 1988, destacam-se, como alicerce do Estado Brasileiro, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Nos termos do § 4º do art. 60, os direitos e garantias individuais constituem cláusula pétrea. E mais, o art. 5º, § 1º, estatui a aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais.[6]
O art. 6º elenca os direitos sociais como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Há dispositivos constitucionais, no Título VIII, que dispõe sobre a Ordem Social, que impõem ao Estado como dever (e ao cidadão como direito) a prestação de saúde,[7] educação,[8] cultura,[9] esporte,[10] ciência e tecnologia[11] e outros.
Vale lembrar a previsão do § 2º do art. 5º da Carta Magna brasileira, segundo a qual, “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.
- Os direitos sociais em Portugal.
Na Constituição Portuguesa, igualmente, ganha destaque a proteção aos direitos fundamentais. A Parte I trata dos Direitos e Deveres Fundamentais. A Carta de 1976, com as revisões da Lei Constitucional n.º 01/89, de 8 de julho de 1989, classificou os direitos humanos fundamentais em direitos, liberdades e garantias pessoais (Título II). O Título II é dividido em direitos pessoais (Capítulo I), direitos, liberdades e garantias de participação política (Capítulo II), direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores (Capítulo III). Nesse sentido, bem leciona Canotilho que não se trata de simples esquema classificatório, mas de um regime jurídico-constitucional, caracterizador, materialmente, desta espécie de direitos fundamentais.[12]
Na Constituição Portuguesa, os direitos, liberdades e garantias são identificados como direitos positivos a ações e prestações do Estado; os destinatários são os poderes públicos e as entidades privadas com relação aos direitos dos cônjuges,[13] dos trabalhadores[14] e à greve[15].
No Brasil, vive-se um cenário diferente do de Portugal: a miséria ainda assola grande parte da população, ao passo que, em Portugal, apesar de não haver essa realidade, há a necessidade de uma tutela constitucional com relação a outros direitos fundamentais.
Na Constituição Portuguesa, os direitos econômicos, sociais e culturais apresentam-se elencados nos capítulos dos direitos e deveres econômicos (Cap. I, art. 58.° a 62.°), dos direitos e deveres sociais ( Cap. II, arts. 63.º a 72.°) e dos direitos e deveres culturais (Cap. III, arts. 72.° a 79.°).
Ainda invocando o magistério de Canotilho, temos que muitos desses direitos demandam prestações ou atividades do Estado. Contudo, no tocante aos direitos econômicos, sociais e culturais, na Constituição portuguesa, são classificados como direitos de natureza negativo-defensiva, como os dos arts. 61.º e 62.º (direitos de iniciativa privada e o direito de propriedade privada). Assim, os destinatários, além do Estado, são também os cidadãos (art.º 60.º, 68.º e 69.º).
A Constituição Portuguesa também se refere a outros direitos fundamentais constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional.[16] São os chamados direitos materialmente fundamentais (“norma de fattispecie aberta”, decorrente do princípio da não identificação ou da cláusula aberta).
Na doutrina portuguesa, são direitos extraconstitucionais materialmente fundamentais aqueles que equivalem aos formalmente fundamentais por sua relevância e objeto. Nesse sentido, na parte I da Constituição Portuguesa, há um catálogo de direitos fundamentais, mas há outros ao longo da Constituição, os quais, segundo Canotilho, seriam “direitos fundamentais formalmente constitucionais, mas fora do catálogo” (CANOTILHO, 2003).
Portanto, conforme acima versado, existe uma imposição constitucional, que legitima transformações econômicas e sociais. Destarte, ainda que se invoque a reserva do possível, que condiciona a efetivação dos direitos fundamentais à sustentabilidade econômica, esse primado vai além da vontade do legislador e tem o fulcro da Constituição.
À vista disso, a concretização dos direitos sociais (à habitação, saúde, assistência, cultura, etc.), é condicionada a determinadas condições de fato: “Para que o Estado possa satisfazer as prestações a que os cidadãos têm direito, é preciso que existam recursos materiais suficientes e é preciso ainda que o Estado possa dispor desses recursos” (ANDRADE, 1983, p. 201). Assim, os direitos fundamentais encerram vedação de intervenção e enunciado de proteção e são “não apenas uma proibição de excesso, mas uma proibição de proteção insuficiente” (BRANCO; MENDES, 2014 p. 608).
Como bem destacado pelo Professor Gilmar Mendes, aludindo Stephen Holmes e Cass Sunstein, todas as dimensões dos direitos fundamentais têm custos públicos, o que atrai a discussão acerca da “reserva do possível”, uma vez evidenciada a “escassez dos recursos”, impondo-se escolhas alocativas (BRANCO; MENDES, 2014 p. 608).
Na obra em comento, resta assentado que é a dimensão prestacional (positiva) dos direitos sociais o argumento que se opõe à sua judicialização. Isso porque, como para a efetivação dos direitos sociais há dependência de recursos econômicos, parte da doutrina entende que essas normas têm natureza programática, dependem de políticas públicas para se tornarem exigíveis. Nessa linha, há quem defenda que “a intervenção do Poder Judiciário, ante a omissão estatal quanto à construção satisfatória dessas políticas, violaria os princípios da separação dos poderes e o da reserva do financeiramente possível” (BRANCO; MENDES, 2014 p. 608).
Nesse sentido, suscita Canotilho que:
“[…] os direitos de liberdade não custam, em geral, muito dinheiro, podendo ser garantidos a todos os cidadãos sem se sobrecarregarem os cofres públicos. Os direitos sociais, pelo contrário, pressupõem grandes disponibilidades financeiras por parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu à construção dogmática da reserva do possível (Vrbehaltdes Möglichen) para traduzir a ideia de que os direitos sociais só existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos”. (CANOTILHO, 2003)
No território português chama a atenção a alteração constitucional, depois da revisão de 1997, que resultou no art.º 20.º/4 da CRP: “todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objeto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo”.
Apesar de não existir, no ordenamento jurídico constitucional português, um processo de queixa constitucional, um recurso de amparo, para que o jurisdicionado possa acessar o tribunal constitucional diretamente por violação a direitos fundamentais, existe a previsão do direito constitucional de acesso a uma justiça constitucional. É possível ao jurisdicionado arguir a inconstitucionalidade de qualquer norma ou a ilegalidade de atos normativos que afrontam a lei nos processos submetidos ao julgamento de qualquer tribunal, ou seja, se houver um caso concreto sub judice, pode ser feita tal arguição. Contudo, esse modelo português, no âmbito jurisdicional, não é considerado efetivo, tampouco garantidor dessa proteção, como seria se houvesse um recurso de amparo.
Na pesquisa da jurisprudência do Tribunal Constitucional português, é relevante o número de acórdãos que consigna a inadmissibilidade do recurso de constitucionalidade sob o fundamento de não estar previsto no ordenamento um recurso de amparo ou de queixa constitucional. Assim, faz-se mister a relevante discussão acerca da efetividade de direitos sociais a partir dessa perspectiva
Ocorre que, na epígrafe e no n.º 5 do art. 20.º, há expressa referência ao direito à tutela jurisdicional efectiva[17] ou ao direito à tutela efectiva[18]. A tutela, através dos tribunais, deveria ser efectiva e“o princípio da efectividade articula-se, assim com uma compreensão unitária da relação entre direitos materiais e direitos processuais, entre direitos fundamentais e organização e processo de proteção e garantia”. Canotilho refere-se a tipos de acções ou recursos adequados para tanto e à responsabilidade do legislador no tocante à organização dos tribunais e dos instrumentos processuais pertinentes. Destaca ser vedado criar dificuldades excessivas e materialmente injustificadas no direito de acesso aos tribunais e a criação do que ele chama de “situações de indefesa” originadas por conflitos de competência negativos entre vários tribunais (CANOTILHO; MOREIRA, 2014, p. 416).
1.2 Os direitos sociais no Brasil.
O art. 1º da Constituição Federal brasileira estabelece um Estado Democrático de Direito fundado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo jurídico. A Carta de 1988 foi promulgada no segundo período pós-guerra, inspirada por inúmeros movimentos sociais, após longo período de ditadura em que a Nação foi marcada, sobretudo, pela tortura, pela censura e pela escassez de liberdade de expressão.
Contudo, o sonho transposto para a Lei Maior brasileira não se tornou realidade, como aconteceu em vários países tidos como de Terceiro Mundo, em face da ausência de efetividade dos direitos sociais previstos em longo elenco.
Dessa forma, exsurge a fragilidade do texto constitucional brasileiro, muito dissociado da realidade, uma verdadeira “Alice no País das Maravilhas”, gerando uma crise do Estado que acaba por desaguar em uma crise jurídica.
Por conseguinte, há uma demanda intensa do Judiciário para que se supra, mediante decisões judiciais, a ausência de políticas públicas implementadoras dos direitos sociais constitucionalmente previstos. Essa autonomia do Judiciário é rotulada, no entanto, como “decisionismos” e “discricionariedades”, sob o argumento de que o Direito (em especial o direito processual civil) se mantém refém do objetivismo (metafísica clássica) e da filosofia da consciência (metafísica moderna). Justificam os que assim pensam com a assertiva de forte apego ao ritualismo e à ordinarização, alegando que o que deveria ser uma ciência do pensamento torna-se uma ciência matemática.
Passados trinta anos da promulgação da constituição brasileira, constata-se que, na prática, seu núcleo existencial ainda se encontra muito distante da efetiva aplicação. Diante disso, é de fundamental importância a discussão do papel que a jurisdição constitucional assume nesse contexto jurídico, principalmente no que concerne aos direitos fundamentais-sociais.
Outro ponto que se procura refletir é a forma como o Supremo Tribunal Federal interpreta os direitos sociais: se de forma unívoca, dentro do contexto de similitude e unidade que caracteriza todos os direitos sociais, ou conferindo aos casos submetidos a sua jurisdição interpretações diversas.
A prodigalidade com que se constitucionalizou os direitos sociais está relacionada à necessidade de proteção aos hipossuficientes, diante de um cenário, no Brasil, de um país de desigualdades, fundando-se o constituinte em princípios básicos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade.
A Constituição de 1934 já abrigava amplamente o tema, que passou a ser recorrente nas subsequentes. Na Carta Constitucional de 1988, os direitos sociais passaram a compor o rol dos direitos fundamentais, com direito a um capítulo inteiro. Com efeito, os direitos sociais elencados no rol dos direitos e garantias fundamentais estão distribuídos em seu capítulo II, entre os artigos 6º a 11º; dentre os quais cite-se: o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
2. A problemática do acesso à jurisdição e suas vicissitudes para o trabalhador brasileiro.
Passados 125 anos da Lei Áurea, ainda nos deparamos com recorrentes relatos de pessoas que trabalham, ainda hoje, em condições análogas a de escravo e com características essencialmente escravagistas, como o trabalho doméstico.[19] Não adianta fecharmos os olhos para uma realidade que simplesmente é: o Brasil ainda é uma nação que não se livrou da chaga da escravatura, a começar pela exclusão do trabalhador doméstico de vários incisos do rol do art. 7º da Constituição Federal.
Essas reflexões servem apenas de pano de fundo para concluir que, lastimavelmente, o trabalhador ainda não é valorizado o suficiente, continuando na condição de vassalo ao submeter-se (e não aderir) a um contrato de trabalho, sem proteção regulamentada de dispensa arbitrária, o que o mantém na condição de subserviência, sendo incontáveis as situações de assédio moral, principalmente as suportadas em silêncio pelo pavor de perda de emprego. Aliás, a questão de ausência de regulamentação da dispensa arbitrária, erigida à condição de direito fundamental, logo no inciso I do art. 7º, talvez seja a principal causa da pouca efetividade dos direitos sociais do trabalhador.
Assim, resta ao trabalhador o pedido de socorro ao Judiciário, valendo-se da principal garantia fundamental de ação para demandar seus direitos: o processo. Contudo, o processo, efetivamente, não constitui instrumento de realização desses direitos fundamentais do trabalhador, mas antes de negação.
O trabalhador vilipendiado, sem condições de vislumbrar, fora da esfera judicial, a efetividade do extenso rol dos seus direitos fundamentais, deveria encontrar, no processo, um meio eficaz de aplicação do seu direito material única e exclusivamente. Mas o processo do trabalho tem se revestido cada vez mais de uma complexidade que se revela incoerente com os princípios processuais que o informam, como os da celeridade, oralidade, informalidade, eventualidade e economia processual.
A Constituição de 1988 é pródiga ao elencar os direitos sociais, adotando “o mais amplo catálogo de direitos sociais da história do nosso constitucionalismo, incluindo os direitos trabalhistas em capítulo próprio, o ‘Dos Direitos Sociais’” (AUTOR, ANO, PÁGINA).
Logo no início do texto constitucional, no art. 1º, inciso IV, há destaque para “os valores sociais do trabalho”. No artigo 170, há expressa consideração de que “a ordem econômica se funda na valorização do trabalho”, sendo que o seu inciso VIII classifica como princípio constitucional a “busca pelo pleno emprego”. Ademais, o artigo 193 estabelece que “a ordem social tem como base o primado do trabalho” e o inciso I do artigo 7º da Constituição Federal dispõe sobre a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa.
Mas o que se verifica, na prática, é que, quando se trata de dar efetividade a esses direitos fundamentais do trabalhador o tratamento não é o mesmo dispensado aos demais direitos fundamentais. Contudo, o direito ao trabalho digno – com a fundamentalidade que a Carta Magna de 1988 quis imprimir – é que respalda os demais direitos fundamentais. Sem trabalho digno não há garantia dos Direitos Sociais elencados no art. 6º.
Ora, se os direitos fundamentais não são efetivos, perdem a sua fundamentalidade. E para que sejam efetivados, devem contar com um sistema jurisdicional garantidor.
Assim, para que haja essa garantia em juízo ao trabalhador, fazem-se necessárias algumas mudanças: no Brasil, deve ser superada a justiça defensiva, que tanto assola as pretenções dos demandantes e já se encontra assentada no Tribunal Superior do Trabalho; em Portugal, deveriam ser providos meios e instrumentos eficazes, aptos a permitirem o acesso do jurisdicionado.
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Renata Rua de; CALVO, Adriana – Estudos comparados das legislações trabalhistas do Brasil e de Portugal. São Paulo: LTr, 2011. ISBN 978-853-611-781-2.
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Coimbra: Livraria Almedina, 1983.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ª ed. Coimbra: Almedina, 2003.
______, José Joaquim Gomes. MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Volumes I e II, 4.ª ed. Coimbra: Almedina, 2014.
MENDES, Gilmar F.; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014.
REPÚBLICA PORTUGUESA. Diário da República, I Série. Nº 86 (10-04-76) de 25 de abril. Lisboa: Assembleia do Parlamento, 1976.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Constituição Federal da República. Brasília: Planalto, 1988.
SUSTEIN, Cass. A constituição parcial. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.
[1] Advogada e Professora; Mestranda e Doutoranda em “Ciências Jurídicas” pela Universidade Autônoma de Lisboa – UAL (Lisboa/Portugal); pós-doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca (Salamanca/Espanha). E-mail: perolamor@gmail.com.
[2] Graduando em Direito pela Universidade de Brasília – UnB. E-mail: joaogabrielcdsantos@gmail.com.
[3] Essas Súmulas e Orientações Jurisprudenciais representam a pacificação da jurisprudência no TST e barram a admissibilidade de recursos. Atualmente há 463 Súmulas e 709 Orientações Jurisprudenciais, entre as normais e transitórias só da Subseção 1 de Dissídios Individuais do TST.
[4] Art. 899 da CLT.
[5] O acervo do TST é de quase 300 mil processos, com uma composição de 27 Ministros.
[6] §1º- As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
[7] “Art. 196- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
[8] “Art. 205- A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
[9] “Art. 215- O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”.
[10] “Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados”.
[11] “Art. 218- O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”.
[12] “Artigo 17- O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no título II e aos direitos fundamentais de natureza análoga”.
[13] “Artigo 36- Família, casamento e filiação: 1. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade; (…); 3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos”.
[14] “Artigo 53- Segurança no emprego, é garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos”.
[15] “Artigo 57- Direito à greve e proibição do lock-out. 1. É garantido o direito à greve”.
[16] “Artigo 16 – Âmbito e sentido dos direitos fundamentais; 1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional”.
[17] “1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos
[18] 5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.”
[19] A Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353), sancionada em 13 de maio de 1888, foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil.